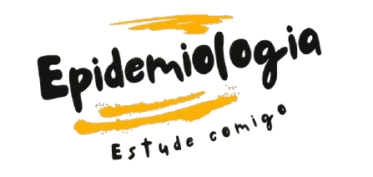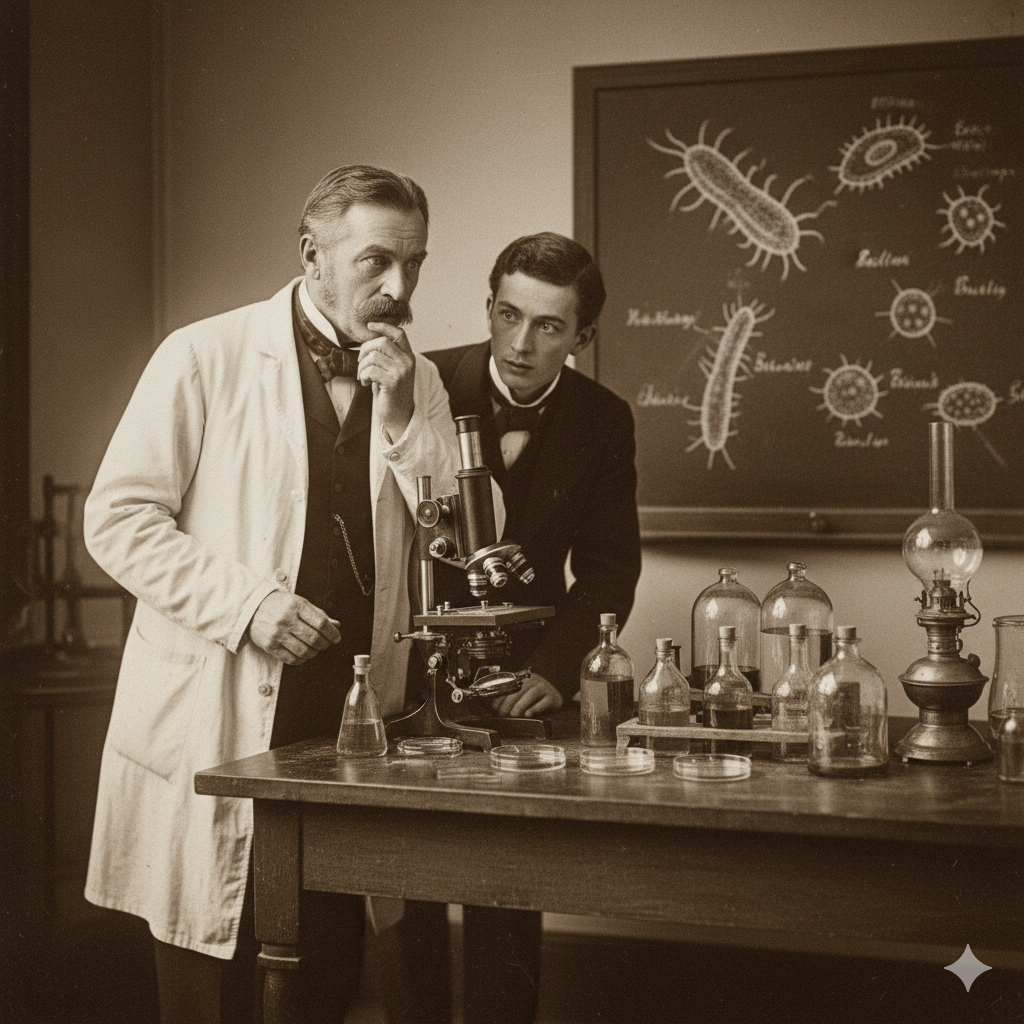A compreensão da causalidade é um pilar fundamental no campo da saúde coletiva. Para o desenvolvimento de intervenções eficazes na prevenção de doenças e na promoção da saúde, é imperativo que os profissionais e pesquisadores transcendam a mera observação de associações estatísticas e se aprofundem na identificação das suas verdadeiras causas. Atribuir o adjetivo “causal” a uma associação probabilística é um dos desafios centrais da epidemiologia, um processo que requer rigor metodológico, raciocínio lógico e uma apreciação crítica das evidências disponíveis.
A evolução histórica do pensamento causal em saúde reflete uma tensão fundamental entre duas abordagens. Por um lado, a tradição de Panaceia, que representa a medicina individual e curativa, focada em intervir sobre o indivíduo já doente. Por outro, a tradição de Higeia, que via a saúde como um resultado da harmonia entre o ser humano e o seu ambiente, promovendo ações coletivas de higiene para manter o equilíbrio e prevenir o adoecimento. Esta última abordagem, de caráter coletivo e preventivo, semeou os fundamentos do raciocínio epidemiológico. Dois exemplos históricos são emblemáticos desta transição:
• Ignác Semmelweis (c. 1847): Ao investigar as taxas de mortalidade por febre puerperal em uma maternidade de Viena, Semmelweis observou que os óbitos eram dez vezes mais frequentes no setor atendido por médicos e estudantes de medicina do que no setor atendido por parteiras. Ele formulou a hipótese de que a matéria cadavérica, transportada das autópsias para as salas de parto pelas mãos dos médicos, era a causa da doença. Sua intervenção — a simples lavagem das mãos — demonstrou a validade do seu raciocínio causal, muito antes da descoberta dos micro-organismos.

• John Snow (c. 1854): Durante uma epidemia de cólera em Londres, Snow utilizou o mapeamento dos óbitos para levantar a hipótese de que a doença era transmitida pela água. Ele comparou as taxas de mortalidade entre distritos abastecidos por diferentes companhias de água e concluiu que as fontes contaminadas do rio Tâmisa eram a causa da disseminação. Seu trabalho é considerado um modelo exemplar de estudo epidemiológico, ilustrando como a análise sistemática de dados populacionais pode levar à identificação de causas e ao controle de doenças.
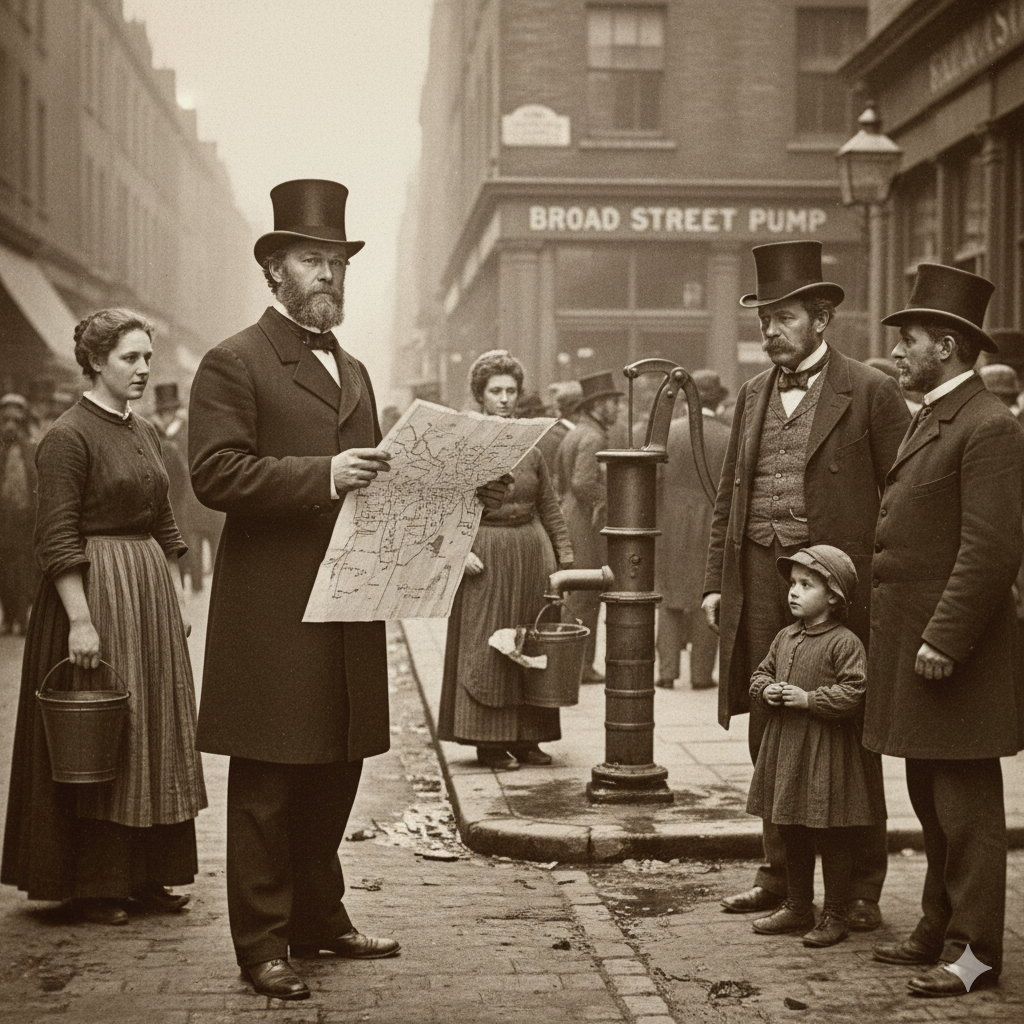
O desafio central da epidemiologia, no entanto, reside na distinção essencial entre associação e causalidade. Uma associação estatística entre um fator e uma doença não implica, necessariamente, uma relação de causa e efeito. Um exemplo claro desta dificuldade surge em estudos transversais que analisam a relação entre assédio sexual e o consumo de álcool. Nesses estudos, que medem exposição e desfecho simultaneamente, é extremamente difícil discernir a antecedência temporal. O consumo de álcool pode ser uma consequência do trauma do assédio, ou mulheres que consomem álcool podem estar mais vulneráveis a sofrer assédio. Esta ambiguidade, conhecida como causalidade reversa, ilustra a necessidade de desenhos de estudo mais robustos e de um arcabouço teórico sólido para a inferência causal.
Para superar essas limitações, é necessário explorar os fundamentos filosóficos e lógicos que sustentam os modelos de determinação das doenças, permitindo uma análise mais profunda e crítica das relações observadas.
2. Fundamentos Filosóficos e Lógicos do Determinismo Epidemiológico
Os modelos causais em epidemiologia não emergem de um vácuo; são sustentados por princípios filosóficos e lógicos que moldam a forma como compreendemos a determinação das doenças. A familiaridade com estas bases teóricas é essencial para avaliar as forças e as limitações dos diferentes modelos utilizados na prática da saúde pública, desde os mais simples aos mais complexos.
Historicamente, o pensamento científico foi dominado por um modelo determinista clássico, que buscava relações de causa única e efeito necessário. Contudo, a epidemiologia moderna opera sob uma lógica predominantemente probabilística. Nesta abordagem, a exposição a um determinado fator de risco não determina de forma absoluta a ocorrência de uma doença, mas aumenta a probabilidade ou o risco do seu desenvolvimento. O conhecimento epidemiológico, portanto, lida intrinsecamente com a incerteza, e a noção de probabilidade é o dispositivo central utilizado para quantificar e gerir essa incerteza.
Para refinar a compreensão do determinismo em um contexto de incerteza, a epidemiologia pode se beneficiar de conceitos filosóficos mais avançados, como a contingência e a sobredeterminação:
• Contingência: Este conceito aristotélico refere-se àquilo que não é nem necessário nem impossível; é um evento “indecidível relativamente ao presente e ao futuro”. A aceitação da contingência não se limita a reconhecer o acaso; representa um desafio fundamental à lógica determinista simplista. Ao introduzir a categoria do “acidente” — definido como “aquilo que está presente e ausente sem corrupção do sujeito” —, Aristóteles praticamente desmonta os princípios basilares da lógica clássica (identidade, não contradição e terceiro excluído). Para a epidemiologia, isso significa reconhecer que, mesmo com o conhecimento de todas as causas aparentes, há um elemento de indeterminação nos processos de saúde e doença que desafia modelos excessivamente rígidos.
• Sobredeterminação: Introduzido por Sigmund Freud no campo da psicanálise, o conceito de sobredeterminação refere-se a um produto psíquico (como um sonho ou um sintoma) que não é determinado por uma causa única e forte, mas por uma multiplicidade de “fatores secundários que, ao se multiplicarem, ganham força”. O texto-fonte resgata uma analogia proposta por Castiel (1988) entre a sobredeterminação na psicanálise e a causalidade na epidemiologia. Esta analogia sugere que um desfecho em saúde raramente é produto de um único fator, mas sim o resultado de uma rede complexa de determinações que, em conjunto, produzem o efeito observado.
A exploração dessas bases filosóficas enriquece o raciocínio epidemiológico, permitindo a transição de modelos lineares e simplistas para modelos mais dinâmicos e capazes de capturar a complexidade dos processos de saúde-doença. Estas ideias fornecem o alicerce para os diversos modelos práticos de causalidade desenvolvidos para explicar a ocorrência de doenças nas populações.
3. Modelos de Causalidade: Da Simplicidade à Complexidade
Para operacionalizar a busca por causas, a epidemiologia desenvolveu diversos modelos explicativos ao longo de sua história. A evolução desses modelos reflete uma transição de abordagens lineares e reducionistas para concepções mais dinâmicas e complexas, que buscam representar de forma mais fidedigna a teia de determinações dos fenômenos de saúde.
Inicialmente, a epidemiologia foi influenciada por modelos unicausais, impulsionados pela teoria microbiana. No entanto, a limitação dessa abordagem para explicar doenças crônicas levou ao desenvolvimento de modelos multicausais, como o das “tortas de causalidade” de Rothman & Greenland (1998). Embora representem um avanço, estes modelos enfrentam uma crítica fundamental: eles representam mera complicação, e não verdadeira complexidade. Multiplicar o número de causas em um modelo linear não altera a lógica fundamental do causalismo; apenas adiciona mais variáveis a uma equação essencialmente aditiva. Esta abordagem da “complicação” falha por ser incapaz de modelar as características definidoras de sistemas verdadeiramente complexos: a Retroação, onde os efeitos retornam ao sistema e alteram as condições iniciais (feedback loops), e a Emergência, onde as interações entre fatores produzem efeitos sinérgicos ou antagônicos, resultando em um todo que é diferente da soma de suas partes.
Em resposta a essa limitação, propostas mais recentes buscam incorporar a verdadeira complexidade nos modelos de determinação, baseando-se em conceitos como redes e sistemas dinâmicos. Sugere-se a ampliação dos modelos explicativos com três elementos-chave:
1. Retroação ou Recorrência: Introduz a ideia de que o efeito pode retornar ao sistema como uma condição inicial (C → D → C1 → D1…), criando ciclos de determinação dinâmicos e não lineares.
2. Interação ou Emergência: Reconhece que os efeitos de múltiplos fatores podem ser sinérgicos (maiores que a soma das partes) ou antagônicos (anulando-se mutuamente), gerando propriedades novas e imprevisíveis no sistema.
3. Redes de Sobredeterminação: Propõe a representação dos processos de saúde-doença como sistemas complexos, onde eventos (nodos) se conectam por múltiplas relações de determinação (conexões), abandonando a ideia de uma cadeia causal linear em favor de uma topologia que captura a interdependência e a multiplicidade de caminhos causais.
A validação de qualquer um desses modelos, do mais simples ao mais complexo, depende fundamentalmente da capacidade dos desenhos de estudo epidemiológico em fornecer evidências robustas que sustentem ou refutem as hipóteses causais propostas.
4. O Papel dos Desenhos de Estudo na Inferência Causal
A força da inferência causal em epidemiologia está intrinsecamente ligada à qualidade e ao tipo de desenho de estudo empregado. Diferentes desenhos oferecem níveis distintos de evidência sobre a relação entre uma exposição e um desfecho, formando uma hierarquia que orienta a interpretação dos achados e a formulação de conclusões sobre a causalidade.
Hierarquia de Evidências dos Desenhos de Estudo
Estudos Observacionais
Nos estudos observacionais, o pesquisador não interfere na exposição dos participantes, limitando-se a observar e analisar os eventos conforme ocorrem naturalmente.
• Estudos Ecológicos: Analisam dados em nível agregado (populacional), sendo úteis para gerar hipóteses. Sua principal limitação para a inferência causal no nível individual é a falácia ecológica: a impossibilidade de assumir que associações observadas em grupos se aplicam aos indivíduos dentro desses grupos.
• Estudos Transversais (Seccionais): Medem exposição e desfecho em um único momento. Sua principal fraqueza para a inferência causal é a incapacidade de estabelecer a sequência temporal entre exposição e doença, o que impede a distinção entre causas e efeitos.
• Estudos de Caso-Controle: Partem de indivíduos com a doença (casos) e um grupo sem a doença (controles), investigando retrospectivamente suas exposições. São eficientes para doenças raras e formulação de hipóteses, mas são particularmente vulneráveis a vieses de seleção e de memória.
• Estudos de Coorte: Acompanham um grupo de indivíduos (coorte) ao longo do tempo, observando a ocorrência de desfechos. Este é o desenho observacional mais robusto para a inferência causal, pois permite medir a incidência diretamente e, principalmente, estabelecer a temporalidade (a exposição precede o desfecho).
Estudos de Intervenção (Ensaios Clínicos Randomizados)
Considerados o padrão-ouro para a produção de conhecimento causal, os ensaios clínicos randomizados (ECR) envolvem a manipulação da exposição pelo pesquisador. O elemento-chave que lhes confere superioridade é a randomização — a alocação aleatória dos participantes para os grupos de intervenção e controle. Este processo assegura que os grupos sejam comparáveis no início do estudo em relação a todos os fatores, conhecidos e desconhecidos, que poderiam influenciar o desfecho. Ao controlar eficazmente os fatores de confundimento, a randomização permite isolar o efeito da intervenção, fortalecendo a inferência de que as diferenças observadas são causadas por ela.
Apesar da clareza desta hierarquia, é fundamental reconhecer que mesmo os desenhos de estudo mais robustos não estão imunes a desafios metodológicos e vieses que podem comprometer a validade da inferência causal, exigindo uma análise crítica e cuidadosa de cada investigação.
5. Conclusão: A Importância da Causalidade para a Ação em Saúde Pública
A busca pela causalidade em epidemiologia é uma jornada intelectual e metodológica que evoluiu de modelos lineares simples para abordagens complexas que incorporam incerteza, contingência e múltiplas determinações. Esta evolução representa mais do que um mero aumento de sofisticação; ela marca um retorno, com rigor científico, aos princípios holísticos e ambientais da tradição de Higeia. Enquanto a abordagem de Panaceia se concentrava na cura do indivíduo isolado, a epidemiologia moderna, ao abraçar a complexidade, as redes de sobredeterminação e as interações sistêmicas, reafirma a visão de Higeia: a de que a saúde é uma propriedade emergente da relação entre as populações e seus contextos sociais, econômicos e ambientais.
Este rigor na investigação causal não é, portanto, um mero exercício acadêmico. Constitui a base para o desenvolvimento de políticas públicas informadas por evidências, para a formulação de estratégias de prevenção eficazes e para a implementação de intervenções que, de fato, melhorem as condições de saúde das populações. Ao identificar os determinantes dos agravos à saúde, a epidemiologia fornece as ferramentas necessárias para agir sobre as suas causas, transformando o conhecimento científico em benefício social e reafirmando o seu papel como disciplina fundamental para a saúde pública.
6. Referências
1. Last JM. A dictionary of epidemiology. 4th ed. New York: Oxford University Press; 2001.
2. Nuland SB. A peste dos médicos: germes, febre, pós-parto e a estranha história de Ignác Semmelweis. São Paulo: Companhia das Letras; 2005.
3. Snow J. On the mode of communication of cholera. 2nd ed. London: John Churchill; 1855.
4. Castiel LD. O conceito de sobredeterminação na epistemologia da epidemiologia. Cad Saúde Pública. 1988;4(3):282-90.
5. Rothman KJ, Greenland S. Modern Epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1998.
6. Vineis P. Causality in epidemiology. Soz Praventivmed. 1999;44(3):90-6.
7. Oakes M. Statistical inference: a commentary for the social and behavioural sciences. New York: John Wiley & Sons; 1990.
8. Aristóteles. Da interpretação. Lisboa: Edições 70; 1985.
9. Freud S. Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva; 1973.
10. Robinson WS. Ecological correlations and the behavior of individuals. Am Sociol Rev. 1950;15(3):351-7.
11. Kleinbaum DG, Kupper LL, Morgenstern H. Epidemiologic research: principles and quantitative methods. Belmont, CA: Lifetime Learning Publications; 1982.
12. Greenland S, Morgenstern H. Ecological bias, confounding, and effect modification. Int J Epidemiol. 1989;18(1):269-74.
13. Morgenstern H. Ecologic studies. In: Rothman KJ, Greenland S, editors. Modern Epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 459-80.
14. Barreto ML. Por uma epidemiologia de saúde coletiva. Rev Bras Epidemiol. 1998;1:104-30.
15. Paim J, Almeida Filho N. A crise da saúde pública e a utopia da saúde coletiva. Salvador: Casa da Saúde; 2000.
16. Doll R, Hill AB. A study of the aetiology of carcinoma of the lung. Br Med J. 1952;2(4797):1271-86.
17. Herbst AL, Ulfelder H, Poskanzer DC. Adenocarcinoma of the vagina. Association of maternal stilbestrol therapy with tumor appearance in young women. N Engl J Med. 1971;284(15):878-81.
18. Hulley SB, Cummings SR. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2003.