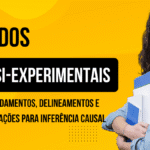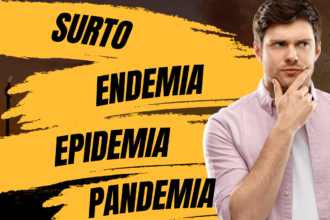Epidemiologia Descritiva: Pessoas, Lugares e Tempo
1. Introdução à Epidemiologia Descritiva
Esta seção introdutória tem como propósito apresentar os conceitos fundamentais da Epidemiologia e situar a epidemiologia descritiva dentro deste campo científico mais amplo. Como pilar da saúde pública, a epidemiologia descritiva fornece as bases para a compreensão e a ação sobre os problemas de saúde que afetam as populações. Seu valor reside na capacidade de transformar dados brutos em um panorama claro da situação sanitária, respondendo às perguntas mais elementares sobre quem adoece, onde e quando.
• Definição e Propósito: A Epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos processos de saúde-doença em populações humanas. Suas raízes históricas remontam a investigações como as de John Snow, que no século XIX mapeou os casos de cólera em Londres e identificou a água contaminada de um poço público como a fonte da epidemia, um modelo exemplar de estudo epidemiológico (8). O objetivo central da Epidemiologia é, portanto, produzir conhecimento científico sobre os processos de determinação das doenças nas coletividades, a fim de subsidiar a prevenção, o controle e a melhoria das condições de saúde.
• Diferenciação Chave: Para navegar no campo da epidemiologia, é essencial dominar a distinção entre seus dois grandes ramos:
◦ Epidemiologia Descritiva: Este é o ramo focado em responder às perguntas fundamentais: “Quem adoece?”, “Onde ocorre a doença?” e “Quando?”. Seu principal objetivo é caracterizar a frequência e a distribuição dos eventos de saúde e doença em uma população, de acordo com as variáveis de pessoa, lugar e tempo.
◦ Epidemiologia Analítica: Avançando a partir das descrições, este ramo busca testar hipóteses sobre as causas das doenças. Estudos analíticos, como os de caso-controle e de coorte, são desenhados para investigar associações entre fatores de exposição (e.g., tabagismo) e desfechos (e.g., câncer de pulmão), avaliando se uma determinada exposição constitui um fator de risco.
É essencial entender que a epidemiologia descritiva não é um campo menor, mas sim o alicerce indispensável do método científico em saúde pública. Os padrões, as tendências e as disparidades que ela revela (por exemplo, observar taxas mais altas de uma doença em um grupo específico ou em uma determinada área) são a matéria-prima para a formulação de hipóteses etiológicas. Essas hipóteses, por sua vez, se tornam o objeto de investigação dos estudos analíticos, que buscam testar formalmente a causalidade.
• Relevância Estratégica: A epidemiologia descritiva é a primeira e indispensável etapa de qualquer investigação epidemiológica. Sua importância estratégica pode ser resumida em cinco funções essenciais:
◦ Descrever o perfil de saúde e doença das populações: Mapeia a magnitude dos problemas de saúde, permitindo conhecer quais são as doenças mais comuns e como se distribuem.
◦ Identificar grupos de maior risco: Ao analisar os dados segundo características como idade, sexo e condição socioeconômica, identifica os segmentos populacionais mais vulneráveis, direcionando ações de prevenção.
◦ Monitorar tendências temporais e geográficas das doenças: Acompanha a evolução das doenças ao longo do tempo e sua distribuição no espaço, sendo importante para a vigilância de surtos e epidemias.
◦ Fornecer subsídios para o planejamento e gestão de serviços de saúde: As informações sobre a carga de doenças e os grupos mais afetados são fundamentais para a alocação de recursos e a organização da rede de atenção à saúde.
◦ Gerar hipóteses etiológicas: As observações e padrões identificados são a principal fonte de hipóteses sobre as causas das doenças, que podem ser posteriormente investigadas por estudos analíticos.
Em suma, a descrição epidemiológica organiza a realidade sanitária, permitindo que os fenômenos de saúde e doença sejam compreendidos em sua dimensão populacional. Essa compreensão é estruturada a partir da análise de três variáveis essenciais — Pessoa, Lugar e Tempo —, que serão exploradas detalhadamente a seguir.

2. As Variáveis Fundamentais da Descrição Epidemiológica
Para compreender os padrões de ocorrência das doenças e identificar seus possíveis determinantes, a epidemiologia descritiva se apoia em três pilares de análise: as características das Pessoas afetadas, do Lugar onde ocorrem e do Tempo em que se manifestam. A análise sistemática dos eventos de saúde através dessas três dimensões é o que permite transformar uma simples contagem de casos em informação epidemiológica qualificada, revelando padrões que seriam invisíveis de outra forma.
2.1. Características das Pessoas (Quem?)
Analisar quem é afetado por um agravo à saúde envolve o estudo de características demográficas, sociais e biológicas que podem influenciar a exposição a riscos ou a suscetibilidade a doenças.
• Idade: É uma das variáveis mais importantes, pois a probabilidade de adoecimento e a gravidade das doenças frequentemente variam com a idade. A distribuição etária dos casos é uma característica marcante de muitas patologias. Por exemplo, doenças como o sarampo passaram a afetar predominantemente crianças em idade pré-escolar no Brasil a partir da década de 1970, refletindo mudanças sociais como a maior participação das mulheres no mercado de trabalho e a ida precoce das crianças para creches.
• Sexo e Gênero: É fundamental diferenciar estes dois conceitos:
◦ Sexo refere-se às características biológicas que definem homens e mulheres.
◦ Gênero é uma construção social e cultural que define os papéis, comportamentos e posições de homens e mulheres na sociedade. Ambos modulam a exposição a riscos e os desfechos de saúde. Em quase todas as sociedades, a mortalidade é maior entre os homens em todas as idades, enquanto a percepção do estado de saúde tende a ser pior entre as mulheres. Essas diferenças refletem tanto fatores biológicos quanto sociais, decorrentes da “divisão sexual do trabalho” e de “distintos modos de vida” que determinam exposições e vulnerabilidades diferenciadas.
• Classe Social e Condição Socioeconômica: A classe social é um poderoso determinante da saúde, refletindo desigualdades na exposição a riscos e no acesso a bens e serviços. Indicadores como renda, escolaridade e ocupação são frequentemente utilizados para mensurar a condição socioeconômica. Um exemplo claro dessa associação é a incidência de baixo peso ao nascer, que, conforme demonstrado em estudos, aumenta progressivamente à medida que se desce na escala social, sendo maior no subproletariado do que no proletariado e na burguesia (11).
• Etnia/Cor da Pele: Esta variável é utilizada para identificar disparidades e iniquidades em saúde que refletem processos históricos e sociais de discriminação. Diferenças na ocorrência de doenças entre grupos étnicos podem ser atribuídas a uma combinação de fatores genéticos, ambientais e, principalmente, socioeconômicos e culturais decorrentes da inserção social desigual desses grupos.
2.2. Características do Lugar (Onde?)
A localização geográfica é um fator determinante na distribuição das doenças. A variável “lugar” pode ser analisada em diferentes escalas, desde a comparação entre países ou estados até a análise de bairros, residências ou instituições específicas, como hospitais e escolas.
• Mapeamento de Doenças: A construção de mapas é uma técnica elementar e poderosa para descrever a distribuição espacial de agravos. O exemplo clássico é o mapa de pontos produzido por John Snow, que visualizou a concentração de óbitos por cólera em torno de um poço de água em Londres (8). Os mapas podem ser de pontos, indicando a localização exata de cada caso, ou coropléticos, nos quais as áreas geográficas (como municípios ou bairros) são coloridas de acordo com a magnitude de uma taxa ou coeficiente, permitindo a visualização de áreas de maior ou menor risco.
• Estudos de Agregados e a Falácia Ecológica: Os Estudos Ecológicos são um tipo de desenho descritivo em que a unidade de análise não é o indivíduo, mas sim grupos populacionais (e.g., cidades, países). Eles examinam a variação espacial de eventos de saúde em relação a características agregadas desses grupos (7). São úteis para gerar hipóteses e avaliar o impacto de políticas de saúde em nível coletivo. No entanto, sua principal limitação é a Falácia Ecológica: a inferência inadequada de que uma associação observada em nível de grupo (ecológico) é válida no nível individual. Por exemplo, se municípios com maior renda média têm maiores taxas de doenças cardíacas, não se pode concluir, com base apenas nesses dados, que as pessoas mais ricas dentro desses municípios são as que têm maior risco de adoecer.

2.3. Características do Tempo (Quando?)
A análise da distribuição temporal dos eventos de saúde é fundamental para detectar surtos, identificar a sazonalidade de doenças e monitorar tendências de longo prazo. Essa análise permite compreender a dinâmica das doenças e avaliar a efetividade de medidas de controle.
• Padrões Temporais: A ocorrência de doenças pode seguir diferentes padrões ao longo do tempo:
◦ Variação Sazonal: Flutuações na ocorrência que se repetem em ciclos anuais, geralmente coincidindo com as estações (9). Doenças respiratórias, por exemplo, costumam ter picos no inverno.
◦ Variação Cíclica: Flutuações que ocorrem em períodos maiores que um ano (9). Certas doenças infecciosas podem apresentar picos a cada poucos anos, devido ao acúmulo de pessoas suscetíveis na população.
◦ Tendência Secular: Mudanças na frequência de uma doença ao longo de um período prolongado, como décadas (9). A análise da tendência secular é essencial para caracterizar a transição epidemiológica, como a queda da mortalidade por doenças infecciosas e o aumento da mortalidade por doenças crônicas (6).
• Curva Epidêmica: Na investigação de surtos, a curva epidêmica é uma ferramenta gráfica indispensável. Ela representa o número de casos de uma doença pela data de início dos sintomas. A análise do formato da curva ajuda a determinar a magnitude da epidemia, o período provável de exposição ao agente causador e se a fonte de infecção foi comum (e.g., um alimento contaminado) ou se a transmissão ocorreu de pessoa para pessoa.
A análise descritiva segundo pessoa, lugar e tempo depende intrinsecamente da disponibilidade e da qualidade dos dados. Os dados de óbito do SIM, quando combinados com os dados populacionais do IBGE, são a matéria-prima para o cálculo do Coeficiente de Mortalidade Geral. Da mesma forma, o cruzamento do SINASC (denominador) com o SIM (numerador) nos permite calcular a Taxa de Mortalidade Infantil, um dos mais sensíveis indicadores de saúde. A seguir, discutiremos as principais fontes de dados utilizadas para alimentar essas análises.

3. Fontes de Dados em Epidemiologia
A prática epidemiológica depende criticamente da existência de dados confiáveis e sistemáticos sobre a saúde das populações. O Brasil tem a felicidade de possuir sistemas de informação em saúde de abrangência nacional e acesso público, como o SIM e o SINASC, que são uma fonte de dados extraordinariamente rica para a pesquisa e a gestão, uma realidade distinta de muitos outros países. Esta seção categoriza e avalia as principais fontes de dados de saúde utilizadas em estudos descritivos.
• Classificação dos Dados: Os dados utilizados em epidemiologia podem ser classificados em duas grandes categorias:
◦ Dados Primários: São aqueles coletados diretamente pelo pesquisador para os fins específicos de uma investigação.
◦ Dados Secundários: São aqueles coletados rotineiramente ou para outros fins, mas que são disponibilizados para análise.
• Sistemas de Informação em Saúde no Brasil: O Brasil dispõe de um robusto conjunto de sistemas de informação em saúde, que constituem importantes fontes de dados secundários. Entre os principais, destacam-se:
◦ SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade): Registra os óbitos a partir das Declarações de Óbito. Fornece dados sobre a causa básica da morte, um conceito importante para as estatísticas de mortalidade.
◦ SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos): Registra os nascimentos a partir das Declarações de Nascido Vivo. Contém informações chave sobre o pré-natal (e.g., número de consultas) e o tipo de parto, sendo vital para avaliar os serviços de saúde materno-infantil.
◦ SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS): Registra as internações hospitalares financiadas pelo SUS. É uma fonte importante para estudos de morbidade hospitalar no SUS, mas sua limitação ao setor público impede que represente a morbidade hospitalar geral do país.
• Inquéritos de Saúde: Os Inquéritos Populacionais são estudos que coletam dados primários diretamente na comunidade. Sua grande importância reside na capacidade de obter informações que não estão disponíveis nos sistemas de rotina, como morbidade referida, fatores de risco comportamentais e acesso a serviços de saúde.
• Qualidade dos Dados: A validade de qualquer estudo descritivo depende da qualidade dos dados utilizados. A avaliação dessa qualidade envolve a análise de alguns atributos essenciais:
◦ Cobertura: A proporção de eventos ocorridos que foram efetivamente registrados no sistema.
◦ Completude: A proporção de campos de um registro que foram preenchidos.
◦ Confiabilidade: A consistência e a acurácia dos dados registrados.
• Como um epidemiologista poderia, na prática, avaliar a cobertura do SIM em um município com áreas rurais remotas? Que fontes de dados alternativas poderiam ser usadas para uma validação cruzada?
Uma vez coletados e avaliados, os dados de saúde são transformados em medidas de ocorrência, que permitem quantificar e comparar a situação sanitária de diferentes populações.
4. Principais Medidas de Ocorrência
Para transformar dados brutos, como o número de doentes ou de óbitos, em indicadores de saúde comparáveis, a epidemiologia utiliza um conjunto de medidas fundamentais. Esta seção irá definir as principais medidas usadas para quantificar a ocorrência de doenças, agravos e mortes, permitindo uma análise objetiva da situação de saúde.
• Valores Absolutos vs. Relativos: É fundamental distinguir dois tipos de valores:
◦ Valores Absolutos: Contagens simples (e.g., “100 casos de dengue”). São insuficientes para comparações.
◦ Valores Relativos: Medidas que relacionam o número de eventos a uma base populacional (e.g., “50 casos por 100.000 habitantes”). Incluem proporções, razões e coeficientes (ou taxas). São indispensáveis para comparar a situação de saúde entre populações de tamanhos diferentes.
4.1. Medidas de Morbidade (Adoecimento)
As duas principais medidas para quantificar o adoecimento em uma população são a incidência e a prevalência.
• Incidência: Mede a frequência de casos novos de uma doença que ocorrem em uma população suscetível sob risco durante um período de tempo específico. A incidência expressa a velocidade com que novos eventos surgem, sendo, portanto, a principal medida do risco de adoecer.
◦ Fórmula (Coeficiente de Incidência): Coeficiente de Incidência = Número de casos novos em um período / População suscetível sob risco no mesmo período x 10^n
• Prevalência: Mede a frequência de todos os casos existentes (novos e antigos) de uma doença em uma população total no momento da medição. A prevalência fornece um “retrato” da situação, indicando o acúmulo de casos na população e, portanto, mede a carga da doença.
◦ Fórmula (Coeficiente de Prevalência): Coeficiente de Prevalência = Número de casos existentes em um momento / População total no mesmo momento x 10^n
É fundamental compreender a relação dinâmica entre essas duas medidas. A prevalência é influenciada tanto pela incidência (a entrada de novos casos) quanto pela duração da doença (determinada pela cura ou pelo óbito). Para doenças crônicas com incidência e duração relativamente estáveis, essa relação pode ser aproximada pela fórmula: Prevalência ≈ Incidência × Duração da Doença. Esta simples equação é uma ferramenta didática poderosa, que nos mostra, por exemplo, que um novo tratamento que prolonga a vida de pacientes sem curá-los (aumentando a duração) levará a um aumento da prevalência, mesmo que a incidência permaneça a mesma.
Todos os casos (novos e antigos) existentes em um momento.
Uso Principal
Estudos de causalidade e avaliação de medidas preventivas.
Planejamento de serviços de saúde e alocação de recursos.
4.2. Medidas de Mortalidade
A análise da mortalidade é central para a avaliação das condições de saúde de uma população.
• Coeficiente de Mortalidade Geral: Indica o risco de morrer por todas as causas na população total em um determinado período.
• Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI): Mede o risco de óbito entre crianças menores de um ano de idade. É um dos indicadores mais sensíveis das condições de vida e de saúde, refletindo a qualidade da atenção à saúde, o saneamento e o nível socioeconômico. Embora comumente chamada de ‘taxa’, a CMI é, a rigor, um coeficiente, pois o numerador (óbitos em menores de 1 ano) não é um subconjunto perfeito do denominador (nascidos vivos no mesmo ano), já que uma criança nascida em dezembro pode morrer em janeiro do ano seguinte. No entanto, para fins práticos e populacionais, é tratada como uma medida de risco.
• Mortalidade Proporcional por Causa: Este indicador não mede o risco, mas sim a importância relativa das diferentes causas de óbito. É muito útil para caracterizar o perfil epidemiológico e monitorar a transição epidemiológica (6).
• Esperança de Vida ao Nascer: É um indicador geral que reflete o padrão de mortalidade de uma população. Representa o número médio de anos que um recém-nascido pode esperar viver, se as taxas de mortalidade do momento de seu nascimento permanecerem constantes.
O cálculo e a interpretação dessas medidas são realizados no contexto de desenhos de estudo específicos, que fornecem o arcabouço metodológico para a investigação descritiva.
5. Desenhos de Estudo Descritivos
Para coletar e analisar dados sobre a distribuição dos eventos de saúde de forma sistemática, a epidemiologia descritiva utiliza desenhos de pesquisa formais. Esses desenhos oferecem um arcabouço metodológico que orienta desde a seleção da população até a análise dos dados. Os mais comuns são o estudo transversal e o estudo ecológico.
• Estudo Transversal: O Estudo Transversal, cuja unidade de análise é o indivíduo, é um desenho no qual exposição e desfecho são medidos em um único momento no tempo. Ele oferece um “retrato” ou uma “fotografia” da situação de saúde de uma população.
◦ Principal Utilidade: Sua principal aplicação é medir a prevalência de doenças e fatores de risco (8).
◦ Principal Limitação: A coleta simultânea de dados dificulta o estabelecimento da sequência temporal entre exposição e desfecho (causalidade reversa).
• Estudo Ecológico: O Estudo Ecológico, em contraste, utiliza o grupo populacional (e.g., uma cidade, um estado) como sua unidade de análise. Ele investiga a associação entre a ocorrência agregada de uma doença e o nível agregado de uma exposição para cada grupo.
◦ Principal Utilidade: É útil para gerar hipóteses e avaliar intervenções em nível populacional (7).
◦ Principal Limitação: Conforme discutido na Seção 2.2, a principal armadilha do estudo ecológico é a Falácia Ecológica. É válido reiterar: uma correlação entre a renda média municipal e as taxas de infarto não nos autoriza a concluir que os indivíduos mais ricos são os que mais infartam. A associação pode ser mediada por fatores contextuais, como o estresse da vida urbana ou a poluição, que afetam a todos no município, independentemente da renda individual.
Os métodos e desenhos da epidemiologia descritiva encontram sua aplicação mais direta e vital na prática da vigilância em saúde pública.
6. Aplicação na Vigilância em Saúde Pública
Os conceitos de pessoa, lugar, tempo, as medidas de ocorrência e os desenhos de estudo descritivos não são meros exercícios acadêmicos. Eles formam a base da Vigilância Epidemiológica, uma função essencial da saúde pública cujo objetivo é monitorar continuamente a situação de saúde da população para subsidiar a tomada de decisões e a implementação de ações de controle.
• Definição e Ação: De acordo com a legislação brasileira, a Vigilância Epidemiológica é “um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” (4). Seu ciclo operacional é frequentemente resumido como “informação para a ação”.
• Conceitos Operacionais: No contexto da vigilância, é fundamental diferenciar alguns termos:
◦ Endemia: A ocorrência habitual ou esperada de uma doença em uma determinada área geográfica.
◦ Epidemia: A ocorrência de casos de uma doença em número claramente acima do esperado.
◦ Surto: Uma epidemia de proporções localizadas, restrita a um espaço circunscrito, como uma escola ou creche.
• Base da Vigilância: Um dos principais mecanismos para a coleta de dados que alimentam a vigilância é a Notificação Compulsória. Trata-se da comunicação obrigatória, por parte de profissionais de saúde, da ocorrência de doenças e agravos de interesse para a saúde pública, permitindo o monitoramento contínuo e a detecção precoce de surtos.
• Conclusão: A epidemiologia descritiva, ao organizar os dados de saúde segundo as variáveis de pessoa, lugar e tempo, é a ferramenta fundamental que fornece a base de evidências para a ação em saúde pública. Ela permite que passemos da observação de casos isolados para a compreensão de padrões populacionais, transformando o conhecimento em ações concretas que visam proteger e melhorar a saúde das coletividades.
7. Referências
1. Barreto ML. A epidemiologia, sua história e crises: notas para pensar o futuro. In: Costa DC, organizador. Epidemiologia, teoria e objeto. São Paulo: Hucitec-Abrasco; 1990. p. 19-38.
2. Barreto ML. Papel da epidemiologia no desenvolvimento do Sistema Único de Saúde no Brasil: histórico, fundamentos e perspectivas. Rev Bras Epidemiol. 2002;5.
3. Barreto ML. Crescimento e tendência da produção científica em epidemiologia no Brasil. Rev Saude Publica. 2006;40(spe).
4. Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990.
5. Duarte EC, Schneider MC, Paes-Sousa R, Ramalho WM, Sardinha LMV, Silva Júnior JB, et al. Epidemiologia das desigualdades em saúde no Brasil: um estudo exploratório. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2002.
6. Luna EJA. A transição da mortalidade por doenças infecciosas no Brasil. In: Organização Pan-Americana da Saúde. A saúde no Brasil. Brasília: OPAS; 2002. p. 77-88.
7. Morgenstern H. Ecologic studies. In: Rothman K, Greenland S, editores. Modern Epidemiology. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 459-80.
8. Pereira MG. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1995.
9. Porta M, editor. A dictionary of epidemiology. 5th ed. New York: Oxford University Press; 2008.
10. Scliar M. Do mágico ao social: a trajetória da saúde pública. Porto Alegre: L± 2002.
11. Silva AAM, Barbieri MA, Gomes UA, Bettiol H. A desnutrição em nosso meio. J Pediatria. 1992;68(5/6):181-7.
12. Vieira da Silva LM, Paim JS, Costa MCN. Desigualdades na mortalidade, espaço e estratos sociais. Rev Saude Publica. 1999;33(2):187-97.